Tão perto, tão longe? — com O atroz encanto de ser argentino, Marcos Aguinis constrói um roteiro para visitar, e compreender, a alma profunda do povo argentino (*)
Existia uma anedota que dizia ser o argentino um italiano que falava espanhol e pensava ser inglês. Mas isso são brincadeiras de tempos idos, diriam os antigos. O argentino não é mais um europeu perdido em terras sul-americanas. Há algum tempo se vê que, final e desafortunadamente, a Argentina se “latino-americanizou”. No entanto, por mais incômodo que seja, não podemos esquecer que ainda falta piorar muito para que a Argentina chegue à condição de desequilíbrio social que assola e sempre assolou o Brasil. Ainda que não sejam portadores da verdade absoluta — e não o são — índices como o IDH da ONU são um bom ingrediente para azedar o humor duvidoso daqueles brasileiros que, num cúmulo de covardia e sadismo, comprazem-se com a derrocada aparentemente interminável dos “rivais” argentinos.
Mesmo vivendo há pouco mais de meio século uma decadência recentemente acelerada, a Argentina mantém em quase todos os aspectos sociais uma vantagem absurda sobre o Brasil. Exércitos de miseráveis espalhados pelas maiores cidades, crianças morrendo por falta de alimento, falência dos sistemas de ensino e saúde públicos são, para o argentino, atordoantes novidades com as quais lamentavelmente o brasileiro há tempos pareceu se acostumar. Estar atento a essa realidade é um passo importante para conhecer melhor nosso vizinho austral, mas não o bastante.

O que faz Marcos Aguinis em seu O atroz encanto de ser argentino (São Paulo: Bei Comunicação, 2002) é justamente nos auxiliar, abrindo caminhos a esse embrenhado complexo que é o âmago do ser argentino. O livro é um ensaio aparentemente despretensioso mas que, à medida em que avançamos, vai ganhando liga, se agigantando e termina por nos arrebatar e surpreender completamente: a mistura fina de leveza e profundidade, de auto-ironia e compromisso político sem dúvida encantam e fazem com que a aproximação do leitor brasileiro com o universo argentino se dê quase que de forma natural.
Os temas oscilam do político ao cultural (às vezes com abordagens que lembram o antropológico), resvalando em pequenos eventos do cotidiano, voltando ao político, ao social, valendo-se de breves retomadas históricas. Em cada frase, em cada passagem, em cada página, Marcos Aguinis parece atormentado, tomado por uma angústia inelutável, a de querer buscar e apresentar, a si, aos seus compatriotas, ao mundo, uma explicação plausível para a atual condição argentina.
Uma seqüência de imagens traduz de forma quase irretocável esse clima. Com um truque cinematográfico simples mas de impacto visual muito forte, numa Buenos Aires entristecida e submetida a aterradoras nuvens escuras (ou a uma única e interminável nuvem escura), o povo nas ruas, multidões de indivíduos silenciosos, cabisbaixos, marcha melancolicamente para trás — vale a referência: o filme é A Nuvem (La Nube, Argentina, 1998), de Fernando Solanas.

A nuvem (Argentina, 1998), de Fernando Solanas
É necessário compreender para superar. E é por isso que duas questões permeiam todo o livro: por que tudo deu tão errado? e como reverter o que parece acabado? A obsessão por responder a essas perguntas deve — o que é mais do que compreensível — ter se tornado uma epidemia nacional. O desempenho comercial do livro é eloqüente: num intervalo de cerca de um ano, nada menos que 17 edições foram avidamente absorvidas pelo público argentino.
O ATROZ ENCANTO DE SE VER REFLETIDO
Há mais de argentino no brasileiro e mais de brasileiro no argentino do que nossos vis preconceitos nos permitem enxergar. “Se quiséssemos simplificar as diferenças entre brasileiros e argentinos, poderíamos dizer que os primeiros se divertem ao ritmo do samba e os segundos choram ao ritmo do tango. A alegria do Brasil contrasta com a melancolia da Argentina.”, diz Marcos Aguinis na introdução à edição brasileira de seu livro. Perdoável equívoco. Como o tango, as raízes profundas do samba também se alimentam da tristeza das populações marginalizadas, como tão lindamente e para sempre nos lembrará Vinícius de Moraes em “Samba da Bênção”. Esse — o paralelo entre samba e tango — será apenas um dos tantos pontos de contato com que nos depararemos no decorrer da leitura.
A adesão ao personalismo e a conseqüente aversão às instituições, ou mesmo a alergia a qualquer tipo de lei ou regra, identificadas por Aguinis como ervas daninhas que vicejam na alma coletiva argentina, não por acaso nos lembram (como bem nota Pedro Malan no prefácio) o que dizia Sérgio Buarque de Holanda a respeito do brasileiro, sendo essas algumas das características negativas do que ele chamou de “homem cordial”.
Da mesma forma o ventajero ou vivo argentino — que recebeu um ácido e talvez definitivo retrato na recente película Nove Rainhas (Nueve Reinas, Argentina, 2000), de Fabián Bielinsky —, o famoso trambiqueiro que sobrevive da inocência de terceiros, aplicando golpes em série e se vangloriando disso, não é de forma alguma personagem estranho ao dia-a-dia do brasileiro. Maus hábitos de uma determinada parcela da população e que, às vezes com a anuência silenciosa de todos, acabam se transformando em rótulos negativos fáceis e por isso mesmo largamente difundidos mundo afora, também não nos despertam estranheza. Segundo Aguinis, muito da imagem que circula pelo mundo do argentino como um ser arrogante e espaçoso provém do cultivo e da aceitação, internamente, desses hábitos que desunem e geram tensão. Alguma semelhança com a irritante mania de certos brasileiros, sejam eles poderosos ou humildes ao extremo, de “levar vantagem em tudo” e ainda se gabar disso?

Nove Rainhas (Argentina, 2000): ou da execrável arte de passar a perna em todos à sua volta
Recuando à época colonial para investigar as raízes dos tropeços que deitaram por terra aquela que já foi uma das nações mais ricas e desenvolvidas do mundo, Aguinis nos confronta com mais um ponto facilmente reconhecível pelo público brasileiro. A ojeriza pelo trabalho, que era visto como tarefa de seres inferiores, escravos ou não, e a predileção pelo ganho fácil, que evitava a todo custo o risco do empreendimento concreto, jogava e continua séculos depois a jogar muitos dos donos do dinheiro a uma sanha especulativa desenfreada e escapista, pouco atrelada a atividades que promovam, mesmo que com imperfeições, o desenvolvimento da coletividade. Entre esforço e risco, e ócio e ganho fácil, não havia e não há muitas dúvidas.
Junto a isso, uma mítica crença de que tudo se resolve magicamente por si só — dá-se um jeito, vamos tocando, e por aí vai — contribuiu para que problemas estruturais, mesmo quando identificados, nunca fossem encarados de frente, com a seriedade e firmeza necessárias.
Outro ponto de semelhança: a infantil necessidade de aprovação externa, o nefasto complexo de inferioridade que, desculpem a insistência, também não nos é nem um pouco desconhecido. Aguinis cita alguns exemplos. Entre eles, o esbanjamento insano de recursos públicos promovido à altura da comemoração do centenário (1810-1910) da revolução de maio (que marcou o início da emancipação argentina) com o único intuito de provar aos milhares de estrangeiros convidados o tão almejado pertencimento ao restrito clube das nações desenvolvidas. Enquanto o dinheiro escoava descontroladamente para festas e celebrações, muitos desses observadores internacionais, contudo, preferiam, mal-agradecidos, destacar os escândalos de uma justiça e de uma administração pública ineficientes e/ou corrompidas. Todos viam, mas os argentinos preferiam fazer de conta que não, aguilhoa o autor.
Mas nem tudo são espinhos. Um dos trechos mais belos do livro é aquele em que Marcos Aguinis investiga origens e desenvolvimento do tango. Uma das mais caras jóias do hoje combalido orgulho argentino, o tango sofreu para ser aceito pela “sociedade”. Exemplo perfeito daquele complexo de inferioridade que já mencionamos acima. Foi necessário ocorrer a aprovação externa do tango para que este fosse finalmente abraçado pelo povo argentino como um todo e elevado ao patamar de bem cultural nacional inestimável. Oriundo do “arrabalde”, do subúrbio, gestado em mentes e corações “impuros” e renegados, o gênero foi primeiramente taxado de sexualmente apelativo, de insolente e inconveniente pelas classes mais altas. Mas o tango, como sagazmente nos mostra o autor, talvez seja uma das mais perfeitas representações do que é ser argentino: em tudo que carrega de dor, de esperanças, de ideologias dos múltiplos povos que se reuniram para formar o que hoje é a Argentina. O tango é essencialmente a miscigenação de almas e, talvez por isso, se perpetue através dos tempos, sofrendo transformações maiores ou menores, no coração de tantas e tantas gerações.
COMENTÁRIOS SOBRE O OBJETO EM SI
Ainda que nos últimos anos possamos notar uma crescente preocupação das editoras em ter um cuidado especial no aspecto físico de seus livros, raras vezes se viu no mercado editorial brasileiro um projeto gráfico tão belo mas, sobretudo, tão pleno de pertinência como o que nos oferece este O atroz encanto de ser argentino.
Não quero parecer fetichista, mas sob certo aspecto o livro já cumpre seu papel mesmo sem ser lido. Porque para aquele que simplesmente o manuseia, sem dele sequer ler uma frase, o livro já se oferece rico em possibilidades simbólicas.
Na capa, contra-capa e lombada predominam tranqüilas as cores branca e azul-clara, que remetem obviamente à albiceleste bandeira argentina, e de alguma forma preparam as emoções do leitor para o que ele irá encontrar à frente.
O papel utilizado na impressão, como nos adverte uma pequena nota ao final do livro, é um novo produto de uma companhia brasileira, um papel reciclado que, ainda segundo a nota, tem parte de sua composição proveniente de uma cooperativa de catadores de papel, e reverte uma porcentagem da renda gerada com sua comercialização para o sustento de uma organização não-governamental que apóia projetos socioambientais. Numa época em que, tanto cá como lá, não suportamos mais ouvir a cantilena do sacrifício de tudo e de (quase) todos em nome exclusivamente de responsabilidades fiscais, que na maior parte das vezes esgotam-se em si mesmas, uma iniciativa empresarial como essa, com intenções ecológico e socialmente responsáveis, não deixa de ser um bom indicativo. Mas podemos tomar a adoção desse papel reciclado como uma mensagem metafórica — simpática não só aos argentinos mas também a todos aqueles povos que, como nós, sabem o que é viver numa espécie de inesgotável crise social — de que vale a pena insistir, lutar, se reinventar. Há e sempre deve haver esperança de renascimento, mesmo quando as coisas parecem ter sido arremessadas ao abismo infinito.
Mas o detalhe, ainda para falar apenas da parte física do livro, que mais chama a atenção é mesmo a capa. Com rara felicidade se decidiu que a capa seria prateada, de um prateado brilhante, o que evoca a viagem etimológica que Aguinis promove a respeito do vocábulo Argentina: prata que seduziu e atraiu milhões de pessoas de todo o mundo, aguçando ganâncias e rivalidades, prata que deu nomes e se fixou para sempre no imaginário argentino, também como sinônimo de dinheiro. Mas a prata brilhante da capa é também um quase-espelho, volta-nos uma imagem um tanto turva, pouco definida, mais adivinhada que exata. É, penso eu, a grande chave de todo o livro. É o convite definitivo à reflexão: em dois dos sentidos que a palavra refletir comporta: pensar, meditar sobre algo, mas também espelhar.
Quem lê esse Atroz Encanto de Marcos Aguinis vê o quão imbecil é essa rivalidade que durante anos e anos foi sendo erguida entre brasileiros e argentinos, vê, repito, quantos são os pontos, positivos e negativos, de contato entre nossos dois povos. Me ocorreu várias vezes durante a leitura que este deveria ser um livro entusiasticamente recomendado a estudantes do ensino médio e superior: talvez assim pudéssemos ver finalmente pulverizada a muralha que esconde brasileiros de argentinos e vice-versa. Talvez assim víssemos nascer uma nova e única nação, construída sobre o verdadeiro e belo sentido da palavra hermano/irmão.
Para retomar A Nuvem, lembremos da luta pela preservação da memória que o filme apresenta. O embate se dá com o novo, que se coloca de forma incisiva, inapelável, apagando violentamente qualquer vestígio de lembrança de pessoas, de eventos, da História. Não se trata de uma luta pelo conservadorismo, mas tão-somente pela preservação da identidade, pela possibilidade do auto-conhecimento. Na verdade, este é um desafio comum a argentinos e brasileiros. É como se ambos devessem aceitar o novo, mas pesando-o, julgando-o, recuperando também o que de bom oferece o passado, as origens comuns, e, por meio deste retorno, construir uma história única. Uma história na qual gigantes adormecidos acordam de um profundo pesadelo e apresentam-se ao mundo como irmãos fortes, capazes de enfrentar juntos as turbulências do presente.
P.S.: Quem quiser conhecer melhor Marcos Aguinis pode acessar sua página na internet, em www.aguinis.net. Entre outras informações, pode-se ter uma idéia de sua vasta produção literária, que é composta por mais de vinte livros, divididos em ensaios, romances, contos e biografias.
Escrito por Ronoc ¦
(*) Texto publicado originalmente em janeiro de 2003, no número 11 da (agora finada) revista eletrônica Rabisco.
-23.588043
-46.741129
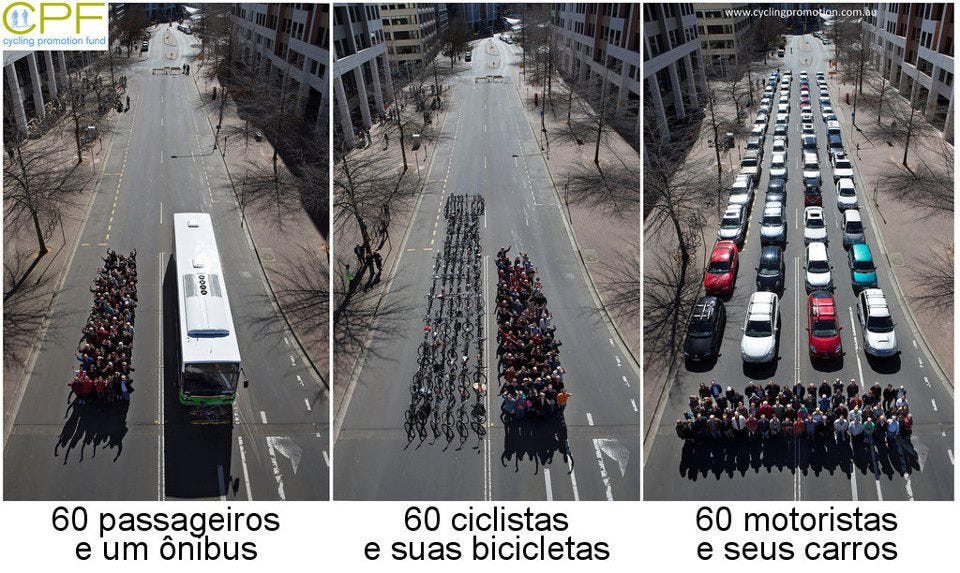




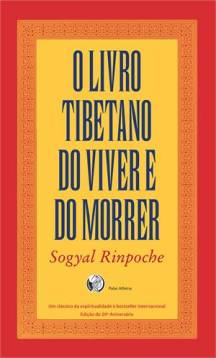






 “Avilo: esgoto do mundo?, fim da cauda do rio onde a chuva faz as vinganças dela? Chuva já não era chuva!, até nós aqui chegamos de meter respeito nos bródas moçam- bicanos, mesmo eles especialistas das enchentes. As costuras do céu tinham rebentado e o costu- reiro-anjo tava de férias — e nós aqui, a aguentar as aquáticas consequências: mais calamidade menos calamidade, quem quer mesmo saber? Internacionalmente somos mais destacados é na guerra e na fome, única chuva que lhes interessa vir aqui sofrer é chuva petroleo-diamantífera, tás a captar, uí?, outras chuvas das lamas dos mosquitos gordos de matar ndengues na febre das madrugadas, ou mesmo chuva do sorriso repentino e rebentado dos alcatrões de nunca mais lhes consertarem, ou chuva molhada nas nenhumas tendas e telhas dos deslocados provinciais da nossa guerra gorda e engordante, essas são chuvas mais próprias pra pobres, e essas ninguém veio aqui pôr pele dele pra ser salpicado na visão dos olhos: andar já era nadar, conduzir já era navegar, viver já era só sofrer. Nosso povo mesmo é que me causa espanto no coração: rir é rir, um ato labial de para-sempre, e rir não só pra dentro, mas de dentro pros outros também, pra atingir e tingir a vida. Agora parece vou ter que te falar isto: aqui a vida é que está a ser adoptada, fosse uma criança d’olhos bem ramelados que você no olhar lhe busca e encontra a ternura — aí você lhe gosta, lhe habitua. Aqui a vida parece uma criança enteada que lhe aceitamos em casa, ela a fugir da guerra…”
“Avilo: esgoto do mundo?, fim da cauda do rio onde a chuva faz as vinganças dela? Chuva já não era chuva!, até nós aqui chegamos de meter respeito nos bródas moçam- bicanos, mesmo eles especialistas das enchentes. As costuras do céu tinham rebentado e o costu- reiro-anjo tava de férias — e nós aqui, a aguentar as aquáticas consequências: mais calamidade menos calamidade, quem quer mesmo saber? Internacionalmente somos mais destacados é na guerra e na fome, única chuva que lhes interessa vir aqui sofrer é chuva petroleo-diamantífera, tás a captar, uí?, outras chuvas das lamas dos mosquitos gordos de matar ndengues na febre das madrugadas, ou mesmo chuva do sorriso repentino e rebentado dos alcatrões de nunca mais lhes consertarem, ou chuva molhada nas nenhumas tendas e telhas dos deslocados provinciais da nossa guerra gorda e engordante, essas são chuvas mais próprias pra pobres, e essas ninguém veio aqui pôr pele dele pra ser salpicado na visão dos olhos: andar já era nadar, conduzir já era navegar, viver já era só sofrer. Nosso povo mesmo é que me causa espanto no coração: rir é rir, um ato labial de para-sempre, e rir não só pra dentro, mas de dentro pros outros também, pra atingir e tingir a vida. Agora parece vou ter que te falar isto: aqui a vida é que está a ser adoptada, fosse uma criança d’olhos bem ramelados que você no olhar lhe busca e encontra a ternura — aí você lhe gosta, lhe habitua. Aqui a vida parece uma criança enteada que lhe aceitamos em casa, ela a fugir da guerra…” Grandes editores do passado — como os lendários
Grandes editores do passado — como os lendários  “As ações que geram blowback em geral são totalmente ocultas do público americano e da maioria de seus representantes no Congresso. Isto significa que quando civis inocentes se tornam vítimas de um ataque de retaliação, eles são inicialmente incapazes de pôr isso num contexto ou de compreenderem a seqüência de acontecimentos que levou àquilo. Em sua definição mais rigorosa, blowback não significa meras reações a acontecimentos his- tóricos, mas a operações clandestinas realizadas pelo governo dos EUA com o objetivo de derrubar regimes estrangeiros, ou de obter a execução de pessoas que os Estados Unidos querem ver eliminadas por exércitos estrangeiros ‘amigos’, ou de ajudar a lançar operações de terrorismo de Estado contra populações além-mar. O povo americano pode não saber o que é feito em seu nome, mas aqueles que são alvos certamente sabem — inclusive os povos do Irã (1953), Guatemala (1954), Cuba (de 1959 até hoje), Congo (1960), Brasil (1964), Indonésia (1965), Vietnã (1961-73), Laos (1961-73), Camboja (1961-73), Grécia (1967-74), Chile (1973), Afeganistão (de 1979 até hoje), El Salvador, Guatemala e Nicarágua (anos 1980), e Iraque (de 1991 até hoje), para citar apenas os mais óbvios.”
“As ações que geram blowback em geral são totalmente ocultas do público americano e da maioria de seus representantes no Congresso. Isto significa que quando civis inocentes se tornam vítimas de um ataque de retaliação, eles são inicialmente incapazes de pôr isso num contexto ou de compreenderem a seqüência de acontecimentos que levou àquilo. Em sua definição mais rigorosa, blowback não significa meras reações a acontecimentos his- tóricos, mas a operações clandestinas realizadas pelo governo dos EUA com o objetivo de derrubar regimes estrangeiros, ou de obter a execução de pessoas que os Estados Unidos querem ver eliminadas por exércitos estrangeiros ‘amigos’, ou de ajudar a lançar operações de terrorismo de Estado contra populações além-mar. O povo americano pode não saber o que é feito em seu nome, mas aqueles que são alvos certamente sabem — inclusive os povos do Irã (1953), Guatemala (1954), Cuba (de 1959 até hoje), Congo (1960), Brasil (1964), Indonésia (1965), Vietnã (1961-73), Laos (1961-73), Camboja (1961-73), Grécia (1967-74), Chile (1973), Afeganistão (de 1979 até hoje), El Salvador, Guatemala e Nicarágua (anos 1980), e Iraque (de 1991 até hoje), para citar apenas os mais óbvios.” Para aqueles que ao final da
Para aqueles que ao final da  Assassinos sem rosto abre com um crime brutal: um casal de fazendeiros idosos é atacado em sua casa com requintes de violência nunca antes vistos naquela região — uma cidade pequena, como dissemos. Aliás, a percepção de uma escalada nos níveis — e uma transformação nos tipos — de violência é algo que provoca mal-estar em Wallander (um policial mais acostumado a lidar com beberrões, brigas entre vizinhos e atropelamentos), e o faz perguntar-se diversas vezes ao longo do livro “Para onde está indo este país?”.
Assassinos sem rosto abre com um crime brutal: um casal de fazendeiros idosos é atacado em sua casa com requintes de violência nunca antes vistos naquela região — uma cidade pequena, como dissemos. Aliás, a percepção de uma escalada nos níveis — e uma transformação nos tipos — de violência é algo que provoca mal-estar em Wallander (um policial mais acostumado a lidar com beberrões, brigas entre vizinhos e atropelamentos), e o faz perguntar-se diversas vezes ao longo do livro “Para onde está indo este país?”. “Os subterrâneos onde se escava o carvão são uma espécie de mundo à parte, e é fácil viver toda uma vida sem jamais ouvir falar dele. É provável que a maioria das pessoas até prefira não ouvir falar dele. E, contudo, esse mundo é a contraparte indispensável do nosso mundo da superfície. Praticamente tudo que fazemos, desde tomar um sorvete até atravessar o Atlântico, desde assar um filão de pão até escrever um romance, envolve usar carvão, direta ou indiretamente. Para todas as artes da paz, o carvão é necessário; e, se a guerra irrompe, é ainda mais necessário. Em épocas de revolução o mineiro precisa continuar trabalhando, do contrário a revolução tem que parar, pois o carvão é essencial tanto para a revolta como para a reação. […] Para que Hitler possa marchar em passo de ganso, para que o papa possa denunciar o bolchevismo, para que os fãs de críquete possam assistir a seu campeonato, para que os ‘Nancy poets’ possam dar palmadinhas nas costas um do outro, o carvão tem que estar disponível. […] O mesmo acontece com todos os tipos de trabalho manual; eles nos mantêm vivos e nos esquecemos totalmente de sua existência. Mais do que qualquer outro, talvez, o mineiro é o típico trabalhador manual, não só porque seu trabalho é tão absurdamente horrível, mas também porque é tão vitalmente necessário, por assim dizer, que somos capazes de esquecê-lo, tal como nos esquecemos do sangue que corre em nossas veias.”
“Os subterrâneos onde se escava o carvão são uma espécie de mundo à parte, e é fácil viver toda uma vida sem jamais ouvir falar dele. É provável que a maioria das pessoas até prefira não ouvir falar dele. E, contudo, esse mundo é a contraparte indispensável do nosso mundo da superfície. Praticamente tudo que fazemos, desde tomar um sorvete até atravessar o Atlântico, desde assar um filão de pão até escrever um romance, envolve usar carvão, direta ou indiretamente. Para todas as artes da paz, o carvão é necessário; e, se a guerra irrompe, é ainda mais necessário. Em épocas de revolução o mineiro precisa continuar trabalhando, do contrário a revolução tem que parar, pois o carvão é essencial tanto para a revolta como para a reação. […] Para que Hitler possa marchar em passo de ganso, para que o papa possa denunciar o bolchevismo, para que os fãs de críquete possam assistir a seu campeonato, para que os ‘Nancy poets’ possam dar palmadinhas nas costas um do outro, o carvão tem que estar disponível. […] O mesmo acontece com todos os tipos de trabalho manual; eles nos mantêm vivos e nos esquecemos totalmente de sua existência. Mais do que qualquer outro, talvez, o mineiro é o típico trabalhador manual, não só porque seu trabalho é tão absurdamente horrível, mas também porque é tão vitalmente necessário, por assim dizer, que somos capazes de esquecê-lo, tal como nos esquecemos do sangue que corre em nossas veias.” “Todos os impérios que já existiram, em seus discursos oficiais, afirmaram não ser como os outros, explicaram que suas circunstâncias são especiais, que existem com a missão de educar, civilizar e instaurar a ordem e a democracia, e que só em último caso recorrem à força. Além disso, o que é mais triste, sempre aparece um coro de intelectuais de boa vontade para dizer palavras pacificadoras acerca de impérios benignos e altruístas, como se não devêssemos confiar na evidência que nossos próprios olhos nos oferecem quando contemplamos a destruição, a miséria e a morte trazidas pela mais recente mission civilisatrice.”
“Todos os impérios que já existiram, em seus discursos oficiais, afirmaram não ser como os outros, explicaram que suas circunstâncias são especiais, que existem com a missão de educar, civilizar e instaurar a ordem e a democracia, e que só em último caso recorrem à força. Além disso, o que é mais triste, sempre aparece um coro de intelectuais de boa vontade para dizer palavras pacificadoras acerca de impérios benignos e altruístas, como se não devêssemos confiar na evidência que nossos próprios olhos nos oferecem quando contemplamos a destruição, a miséria e a morte trazidas pela mais recente mission civilisatrice.” Paulo, executivo de um grande banco multinacional, com sede em Londres e presença em boa parte do globo, vive um momento de grande expectativa em sua carreira. A matriz do banco elabora uma ousada entrada no mercado chinês e busca em seus quadros os melhores nomes para levar o projeto à frente. O nome de Paulo destaca-se.
Paulo, executivo de um grande banco multinacional, com sede em Londres e presença em boa parte do globo, vive um momento de grande expectativa em sua carreira. A matriz do banco elabora uma ousada entrada no mercado chinês e busca em seus quadros os melhores nomes para levar o projeto à frente. O nome de Paulo destaca-se.
 Decidi finalmente ler
Decidi finalmente ler 
 A história se desenrola entre Porto Alegre e uma provavelmente fictícia pequena cidade do interior chamada Frondosa, sendo narrada por um faz-tudo de uma obscura editora da capital gaúcha. Frustrado em sua vida pessoal e profissional, acostumado a passar metade da semana bebendo e a outra tentando se recuperar da ressaca, o sujeito recebe certa vez um envelope branco contendo um trecho xerocado de um manuscrito. Encarregado, entre outras coisas, de responder aos aspirantes a escritores, indicando se os originais enviados interessam ou não à editora, o narrador — normalmente azedo e cético quanto à capacidade humana de produzir relatos realmente interessantes — vê-se tragado pela história que tem em mãos. Revelando as desventuras de uma tal Ariadne, o manuscrito apresenta-se como um relato biográfico que encerra ao mesmo tempo denúncias, sofrimento e uma espécie de despedida de um mundo que se tornou cruel demais para ser suportado. Pronto! É o suficiente para fazer germinar a semente da obsessão. Determinado a descobrir mais sobre a autora do manuscrito, o protagonista vai arrastar a si e a seus companheiros mais próximos para uma jornada de improváveis e risíveis aventuras pelo mundo da espionagem.
A história se desenrola entre Porto Alegre e uma provavelmente fictícia pequena cidade do interior chamada Frondosa, sendo narrada por um faz-tudo de uma obscura editora da capital gaúcha. Frustrado em sua vida pessoal e profissional, acostumado a passar metade da semana bebendo e a outra tentando se recuperar da ressaca, o sujeito recebe certa vez um envelope branco contendo um trecho xerocado de um manuscrito. Encarregado, entre outras coisas, de responder aos aspirantes a escritores, indicando se os originais enviados interessam ou não à editora, o narrador — normalmente azedo e cético quanto à capacidade humana de produzir relatos realmente interessantes — vê-se tragado pela história que tem em mãos. Revelando as desventuras de uma tal Ariadne, o manuscrito apresenta-se como um relato biográfico que encerra ao mesmo tempo denúncias, sofrimento e uma espécie de despedida de um mundo que se tornou cruel demais para ser suportado. Pronto! É o suficiente para fazer germinar a semente da obsessão. Determinado a descobrir mais sobre a autora do manuscrito, o protagonista vai arrastar a si e a seus companheiros mais próximos para uma jornada de improváveis e risíveis aventuras pelo mundo da espionagem. “As sociedades jamais teriam se distanciado umas das outras se não fossem os desbravadores que, por rotas divergentes, as conduziram para ambientes contrastantes e regiões separadas. Elas nunca teriam restabelecido relações entre si — e se modi- ficado mutuamente — sem gerações poste- riores de exploradores, que descobriram as rotas de contato, de comércio, de conflitos e de contágio responsáveis por reuni-las. Os exploradores foram os engenheiros das infra-estruturas da história, os construtores das estradas da cultura, os forjadores de vínculos, os tecedores de redes.”
“As sociedades jamais teriam se distanciado umas das outras se não fossem os desbravadores que, por rotas divergentes, as conduziram para ambientes contrastantes e regiões separadas. Elas nunca teriam restabelecido relações entre si — e se modi- ficado mutuamente — sem gerações poste- riores de exploradores, que descobriram as rotas de contato, de comércio, de conflitos e de contágio responsáveis por reuni-las. Os exploradores foram os engenheiros das infra-estruturas da história, os construtores das estradas da cultura, os forjadores de vínculos, os tecedores de redes.”





 “Os marqueteiros transformam Peter Pan em seu flautista de Hamelin, fingindo libertar os jovens das restrições da disciplina adulta para lhes impor a disciplina do mercado de consumo. O flautista de Hamelin atraiu para longe as crianças da vila porque seus pais não lhe pagavam para livrá-los dos ratos. O flautista de Hamelin do mercado atrai as crianças porque seus pais são ‘guardiões’ que ficam no caminho da indução das crianças ao hall dos consumidores. Assim como o flautista da história fez, o mercado hoje em dia finge capacitar as crianças que seduz dizendo-lhes que elas ficarão potentes com a descapacitação de seus pais. Libertadas de pais possessivos, elas estão, na verdade, encarceradas nos corredores do shopping da mente juvenil.”
“Os marqueteiros transformam Peter Pan em seu flautista de Hamelin, fingindo libertar os jovens das restrições da disciplina adulta para lhes impor a disciplina do mercado de consumo. O flautista de Hamelin atraiu para longe as crianças da vila porque seus pais não lhe pagavam para livrá-los dos ratos. O flautista de Hamelin do mercado atrai as crianças porque seus pais são ‘guardiões’ que ficam no caminho da indução das crianças ao hall dos consumidores. Assim como o flautista da história fez, o mercado hoje em dia finge capacitar as crianças que seduz dizendo-lhes que elas ficarão potentes com a descapacitação de seus pais. Libertadas de pais possessivos, elas estão, na verdade, encarceradas nos corredores do shopping da mente juvenil.”
